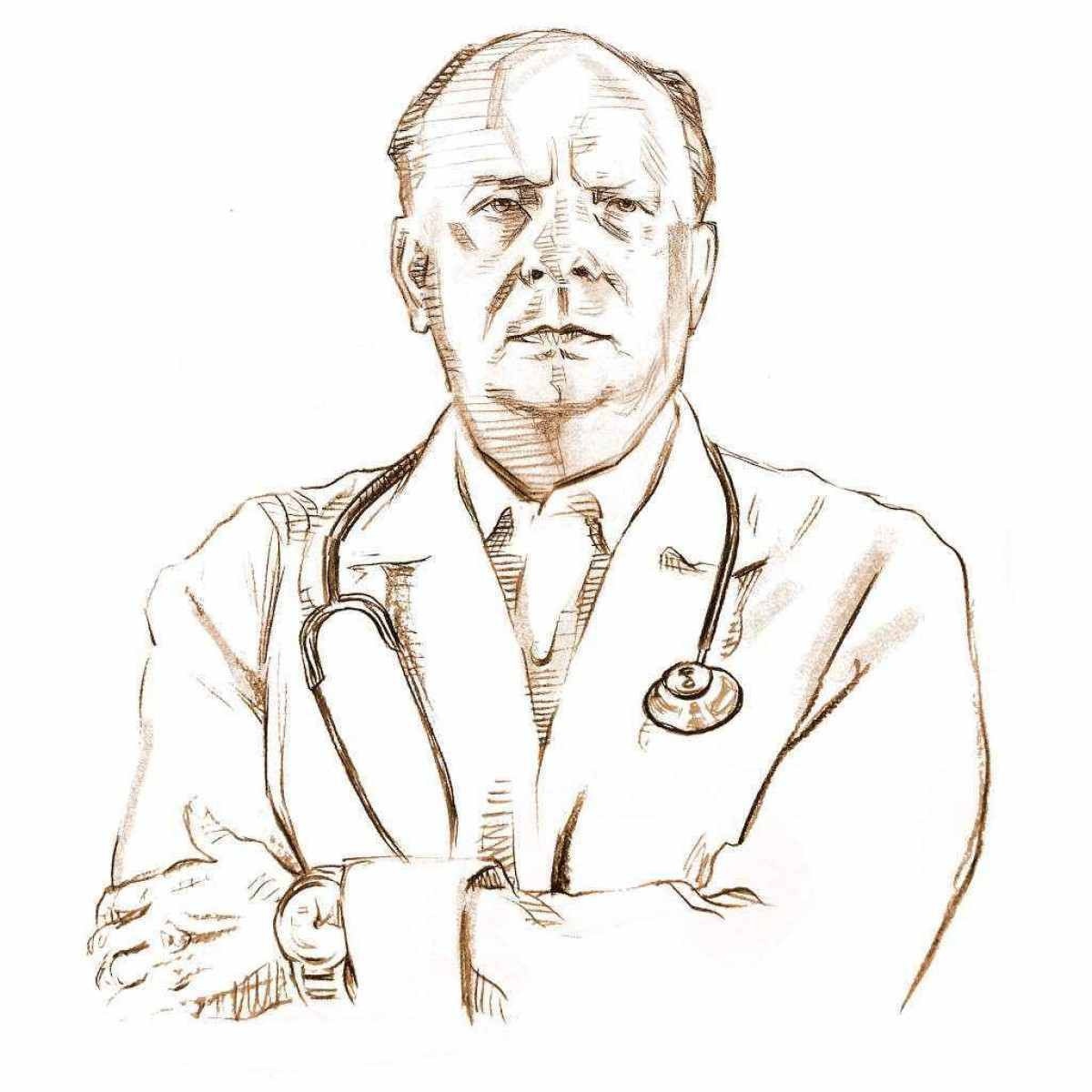
Os piratas do Caribe
O pirata não quer o mar, quer a chave do cais. Quer o petróleo, sim, mas quer principalmente a ideia de que pode apontar para o mapa e dizer "me pertence"
Mais lidas
compartilhe
SIGA NO
Há dias em que o noticiário deixa de ser noticiário e vira o cartaz do cine Brasil do Sr. Rogério de Ibiá: explosões bem enquadradas, heróis com a bandeira no ombro, vilões com a cara amassada pela legenda e a BB linda pra gente sonhar. A diferença, como sempre, é que no cinema o espectador compra pipoca; na vida real, compra silêncio e decepção.
Dizem que o Caribe é um mar de cartão-postal: água com vocação para filtro azul, coqueiro que posa para selfie, vento para nunca suar. Mentira. O Caribe, quando a História resolve se revelar, é um espelho: mostra o que a gente finge não ver. E, ultimamente, o espelho tem refletido um tipo antigo — sujeito que se apresenta como “homem de negócios”, paladino da justiça e da paz, mas entra na sala com cheiro de pólvora e promissória falsa de cobrança.
Um presidente ao Norte (sempre ao Norte) resolveu reabrir a gaveta das doutrinas. Você abre a gaveta (no segundo dia de 2026) e lá estão: mapas amarelados, promessas de “ordem”, um carimbo com a palavra “território” e uma pena de pavão chamada “diplomacia”. Na hora do aperto, a pena cai, e o que fica é o bico da águia e sua bicada seca. Rapinagem de terno e gravata sob medida.
Caracas virou vitrine. Vitrine é isso: você não entra, você apenas olha. E o mundo, em choque — e um tanto satisfeito com o próprio choque — olhou. Olhou como se olha uma joia: com desejo e com medo de que o alarme dispare. O gesto foi apresentado como demonstração de força, como recado, como pedagogia. A pedagogia, nesse caso, tem método simples: humilhar para ensinar. Os alunos aprendem rápido, porque o quadro-negro é uma fotografia correndo o planeta. Ao velho estilo John Wayne, o bandido (bandido de fato) está preso. Hora de beijar a mocinha (ou, a mulher do bandido?!) e “The End”.
Há um requinte nessa nova pirataria: ela não pede desculpas. Antigamente, o pirata disfarçava a ganância com um discurso sobre civilizar o selvagem, salvar a alma, levar a luz. Era um teatro do absurdo, mas ao menos havia o mínimo de pudor na mentira. Agora, o teatro foi dispensado. O pirata moderno entra no convés e anuncia, sem rubor, que o tesouro é dele por definição — e ainda exige reembolso pelos “anos perdidos” em que não pôde abrir o baú com a chave grande. É assalto com nota fiscal, sem CNPJ definido.
No meio disso, ressuscitaram uma velha senhora, meio cansada, chamada Doutrina Monroe. Ela volta rejuvenescida, maquiada de “atualização”, e declara que a vizinhança tem dono. A América Latina, diz o pirata, é o quintal — palavra bonita para dizer “área de serviço”, onde se guardam ferramentas, estendem-se roupas e dormem os subalternos. Autonomia? Só se for autonomia para aplaudir. Influência estrangeira? Só a que vem com o selo certo, o idioma certo e o porta-aviões certo. Não sequestraram apenas um ditador, mas o mundo.
E como todo pirata precisa de figurantes, há sempre um aliado barato em oferta. Aliado, nessa indústria, é como um guarda-chuva de hotel: você pega, usa, esquece, e alguém paga a conta. Os que apostam na proteção, descobrem tarde demais, que “America First” é uma frase literal: primeiro eu; segundo eu; terceiro, eu de novo — e, se sobrar, você pode ficar com o folheto. Ainda assim, tem sempre um “patriota” (aqui, sinônimo de aliado barato) a aplaudir e tirar proveito político momentâneo da situação.
O Caribe, coitado, assiste. Assiste como se fosse cenário, e talvez seja. Porto, aeroporto, base, rota — palavras que em outros contextos serviriam ao turismo, aqui servem ao tabuleiro. O mapa vira uma mesa de pôquer: um país é uma carta marcada, outro é ficha, outro é blefe. O problema é que quem perde não sai do jogo com ressaca moral; sai com ruas vazias, economia de joelhos, gente em fuga, e uma sensação de que os princípios éticos e morais do século 20 foram simplesmente desligados da tomada. As veias e vísceras da América Latina nunca ficaram tão escandalosamente abertas.
Há também a parte mais elegante do espetáculo: a suspensão seletiva das regras. Constituição, Congresso, carta da ONU, OEA, direito internacional — tudo isso vira adereço, como espadas de plástico descartadas após o desfile de carnaval na quarta-feira de cinzas. Quando convém, invoca-se a lei; quando atrapalha, ignora-se. É uma forma conveniente e engenhosa de sinceridade: a norma vale enquanto me interessa.
E o mundo? O mundo tem se mostrado uma plateia impecável. A plateia do nosso tempo é treinada. Ela aplaude de forma líquida por reflexo e indigna-se por temporadas. Depois, volta ao celular, que é o novo confessionário — só que nele a gente não pede perdão, pede atualização. A cada notificação, mais um pedaço de soberania cai no chão sem fazer barulho. Me perdoem pelo trocadilho infame, mas depois das ameaças de Rússia e China, o mundo pode apodrecer de vez e cair de Maduro.
Eu, que não entendo de geopolítica (quase ninguém entende, só finge), entendo de vizinhança. E na vizinhança, quando alguém diz “isso aqui é meu território”, não é amor pelo território; é medo de perder o controle do próprio porão. O pirata não quer o mar, quer a chave do cais. Quer o petróleo, sim, mas quer principalmente a ideia de que pode apontar para o mapa e dizer “me pertence”. Trata-se de uma infância prolongada com orçamento militar e bomba atômica na merendeira.
No fim, “Os piratas do Caribe” não usam tapa-olho — usam teleprompter. Não têm papagaio — têm coletiva de imprensa para o mundo conhecer quem de fato ele é. E, em vez de canhões enferrujados, têm uma máquina de imagens que humilha antes de atirar. A ironia é que, ao normalizar o saque como método, o pirata ensina o mundo a saquear. Se vale para um, por que não valeria para outros? E assim, com a ambição inconsequente de “organizar”, desorganiza-se. Normaliza-se a pirataria sem escrúpulos e acende o rastilho do barril de pólvora.
O Caribe continua azul, claro. O azul é teimoso, tinhoso e belo. Mas, se você olhar com atenção — sem filtro, sem legenda — dá para ver, boiando, alguns corpos e umas tábuas antigas. Não são destroços de navio; são as placas de milênios passados, aquelas que diziam: “Não matar”, “não furtar”, “não levantar falso testemunho”, “não cobiçar as coisas alheias, principalmente a mulher (ou homem) do próximo”, etc. Estão ali, à deriva, como aviso: quando a pirataria vira política de Estado, a bússola moral não aponta mais para o norte. Ela aponta para o cofre.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

