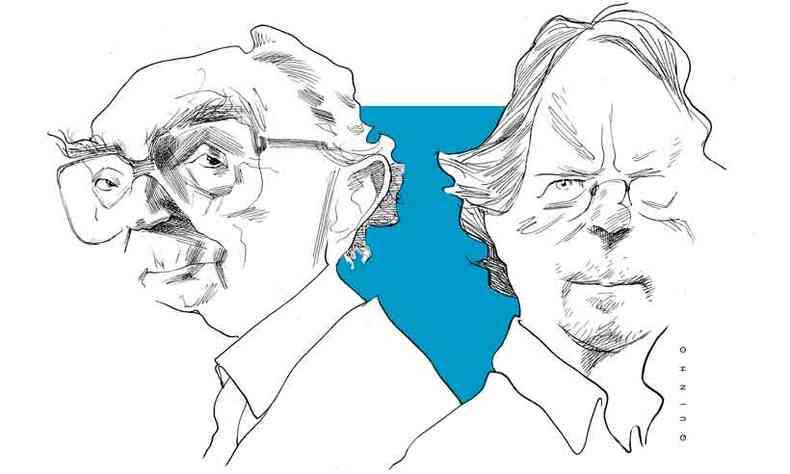
O que dizer sobre José Saramago (1922-2010)? Certamente há muito o que ser dito, ainda mais quando o mais importante escritor moçambicano da atualidade é quem vai falar sobre o maior autor português do século 20. Mas Mia Couto se atém a uma passagem que diz muito mais do homem do que do escritor. E que dialoga diretamente com os tempos de hoje.
Vinte anos atrás, uma viagem de Saramago a Maputo para divulgar o livro “A caverna” coincidiu com uma inundação que matou mil pessoas e destruiu um hospital. O Nobel português telefonou para Couto e perguntou o que era possível fazer. A história, que o autor de “O último voo do flamingo” detalha na entrevista a seguir ao Estado de Minas, culminou com Levantado do Chão, nome escolhido em referência a um dos romances fundamentais de Saramago.
Mia Couto abre na próxima terça-feira (9/03), a temporada 2021 do projeto “Letra em cena on-line”, promovido pelo Minas Tênis Clube. Ele é o convidado do jornalista José Eduardo Gonçalves para falar sobre Saramago – é do moçambicano, inclusive, a caligrafia da capa da nova edição brasileira de “Levantado do chão”, lançada no ano passado pela Companhia das Letras. Não faltarão histórias e estórias de um “homem corajoso e solidário que nele se misturava com o grande escritor”.
Como o senhor descobriu José Saramago?
Fui descobrindo Saramago à medida que ele se descobria a si mesmo. Comecei pela poesia (que ainda não creio ter sido publicada no Brasil). Depois, li um livro de crônicas intitulado “A bagagem do viajante”. A seguir, foi a vez do romance “Levantado do chão”, quando Saramago estava ainda vinculado a uma escrita de pendor realista. Mais tarde, descobri os livros em que o escritor já se afirma no seu estilo mais conhecido, com o trabalho de linguagem e temático que o consagrou.
Há quem relacione “Ensaio sobre a cegueira” e “O último voo do flamingo” pela utilização de elementos da literatura fantástica como metáfora política. O senhor vê pontos em comum nos romances?
É possível que existam pontos comuns. O “Ensaio sobre a cegueira” remete para uma inaptidão interior, a incapacidade de ver os outros, a dificuldade de contemplar a nossa própria interioridade. O meu romance fala de uma nação inteira que desapareceu, de um chão que se afundou porque passou a ser governado por gente que não amava a sua própria terra nem a sua gente. Mas os livros são absolutamente distintos, quer do ponto de vista formal, de linguagem e de construção narrativa.
Vinte anos atrás, o senhor e Saramago estrearam na literatura para crianças. A partir de “O gato e o escuro”, o senhor publicou outros livros para o público infantil. O que um escritor pode aprender ao escrever para os pequenos?
Nunca me sinto a escrever para os pequenos. Escrevo uma história que depois alguém diz que se trata de uma história infantil. Mas tem que estar ali a mesma verdade, a mesma recusa de simplificação, a mesma crença de que ser criança nada tem a ver com alguma menor capacidade de entendimento.
Qual seu romance preferido de Saramago?
“Ensaio sobre a cegueira”. Pela força, contenção e pelo reconhecimento de uma condição humana que se mantém cada vez mais atual. O confinamento que vivemos faz-me lembrar mais vezes o “Ensaio” do que “A peste”, de Albert Camus.
Como foi a passagem de Saramago por Moçambique e o que ela representou?
Saramago veio em 2001 a Maputo para lançar o seu livro “A caverna”. Sucedeu num momento em que o jornalista Carlos Cardoso acabava de ser assassinado a tiro por forças do crime organizado. Logo no aeroporto, José Saramago mudou imediatamente o propósito da sua visita. A literatura deu lugar à militância solidária. Não creio que ele tivesse falado muito do seu livro. Mas falou, e muito, do jornalismo ameaçado, da liberdade de imprensa e apontou corajosamente o dedo para uma possível conivência entre gente do poder e aquele bárbaro assassinato. Esse era o homem corajoso e solidário que nele se misturava com o grande escritor. A sua visita coincidiu também com uma grande inundação do Rio Limpopo que matou mil pessoas e obrigou ao deslocamento de 2 milhões de pessoas. Saramago assumiu ele mesmo a reconstrução de um pequeno hospital que tinha sido arrancado pela fúria das águas. Esse hospital foi reconstruído graças a sua contribuição financeira e levou o nome de um dos seus livros: Levantado do Chão. Recordo de ele me ter telefonado logo quando a tragédia das cheias se tornou conhecida. Não me confortou, não fez uso de uma mensagem feita de palavras. Com o seu tom seco, sentenciou: “Diz-me o que vocês precisam”. Recordei-me daquela unidade de saúde porque era a única que servia uma grande região de camponeses pobres. No dia seguinte, Saramago tinha transferido um valor monetário que não apenas serviu para reerguer o centro de saúde como criou fundos para que ele funcionasse durante os primeiros cinco anos.
Em dezembro de 2020, o senhor recebeu seu mais recente prêmio, o Jan Michalski. O que prêmios – Camões, União Latina, Eduardo Lourenço, entre outros que já lhe foram atribuídos– significam para o senhor?
Os prêmios são para mim um feliz acidente. Não mais do que isso. Admito, contudo, que para o caso de uma nação como a moçambicana eles podem ser mais do que um caso pessoal. E não é porque sejam meus, qualquer outro artista moçambicano produz o mesmo efeito: há um país remoto, desconhecido (ou pior, que se conhece apenas como vítima) que se constrói com a mesma dignidade humana que qualquer outro.
Qual o papel da literatura para um país reconhecer a si mesmo?
No caso de Moçambique, a literatura pode ajudar a reconciliarmo-nos com um passado traumático, com guerras recentes que criaram divisões e ódios e produziram uma visão maniqueísta da nossa própria sociedade. Esta nação está ainda em busca de pontos comuns que costurem identidades históricas diversas. A criação de uma nação consiste, de algum modo, numa construção ficcional. O grande risco é que os vencedores são os únicos autores dessa narrativa que se torna empobrecida. Os escritores podem ajudar a revisitar o passado sem ressentimentos nem ganhos partidários, a descobrir pelas suas estórias diferentes o quanto a História dos moçambicanos é um mosaico de luzes e cores.
O senhor sente o peso de representar a literatura de um país?
Nenhum escritor pode assumir que representa alguma coisa que não seja o seu próprio sentimento do mundo. Mas, como disse atrás, é difícil escapar à injustiça do desconhecimento e preconceito que pesam sobre a África, em geral, e sobre Moçambique, em particular. E não quero escapar a assumir-me, entre muitos outros escritores africanos, um embaixador desse patrimônio vivo e diverso.
De que maneira a pandemia, em que a realidade nos engole, afeta a ficção?
De várias maneiras. A literatura não nasce apenas da literatura e dos livros. Nasce da vida cotidiana, dos encontros e desencontros cotidianos (lembro os versos de Vinicius). A literatura nasce da presença viva e vivificante do Outro. Não é apenas o isolamento físico que nos limita. É sobretudo a criação de uma obsessão coletiva e permanente, uma narrativa única feita de medo, solidão e desespero. Hoje não existe outro assunto. Os noticiários, as conversas, os silêncios: todos falam da doença e da morte. Aprisionaram a esperança, encarceram o desejo telúrico de encontrar e abraçar os outros. É verdade que, por vezes, esse peso pode suscitar uma resposta de resistência criativa que contrarie esta muralha. Isso acontece com certeza porque é isso que nos faz ser humanos: superar pela imaginação a nossa própria fragilidade. Mas creio que o balanço geral é sombrio. A vacina com que sonhamos é, mais do que uma injeção no braço, poder abraçar, viajar pelos outros que somos todos nós.
O senhor teve COVID-19 no início deste ano. Como lidou com a doença, física e mentalmente?
Foram dias de medo. Um medo profundo que me roubava o sono e me corroía a falsa tranquilidade que transmitia entre a família. Morriam, à minha volta, colegas e amigos. Morriam num ambiente hospitalar inóspito, solitário e sem a possibilidade de reconhecer um rosto, uma voz conhecida. E havia casos de gente que morria sem ter lugar num hospital. Entre esses dois pesadelos eu preferia não ter lugar no hospital. Ficava do lado de fora dessa prisão asséptica, onde circulavam fantasmas e onde não se sabe se é dia ou se é noite. Era assim que eu sonhava. A eventualidade de uma hospitalização atemorizava-me mais por esse cenário do que pela doença em si. A presença de quem se ama, sobretudo num momento de sofrimento, dá-nos uma respiração tão vital como a garrafa de oxigênio. Felizmente, o meu caso foi ligeiro. O medo foi o meu maior sintoma.
LETRA EM CENA ON-LINE
Mia Couto fala sobre José Saramago.
Nesta terça-feira (9/03), às 20h, no canal do MTC no YouTube
