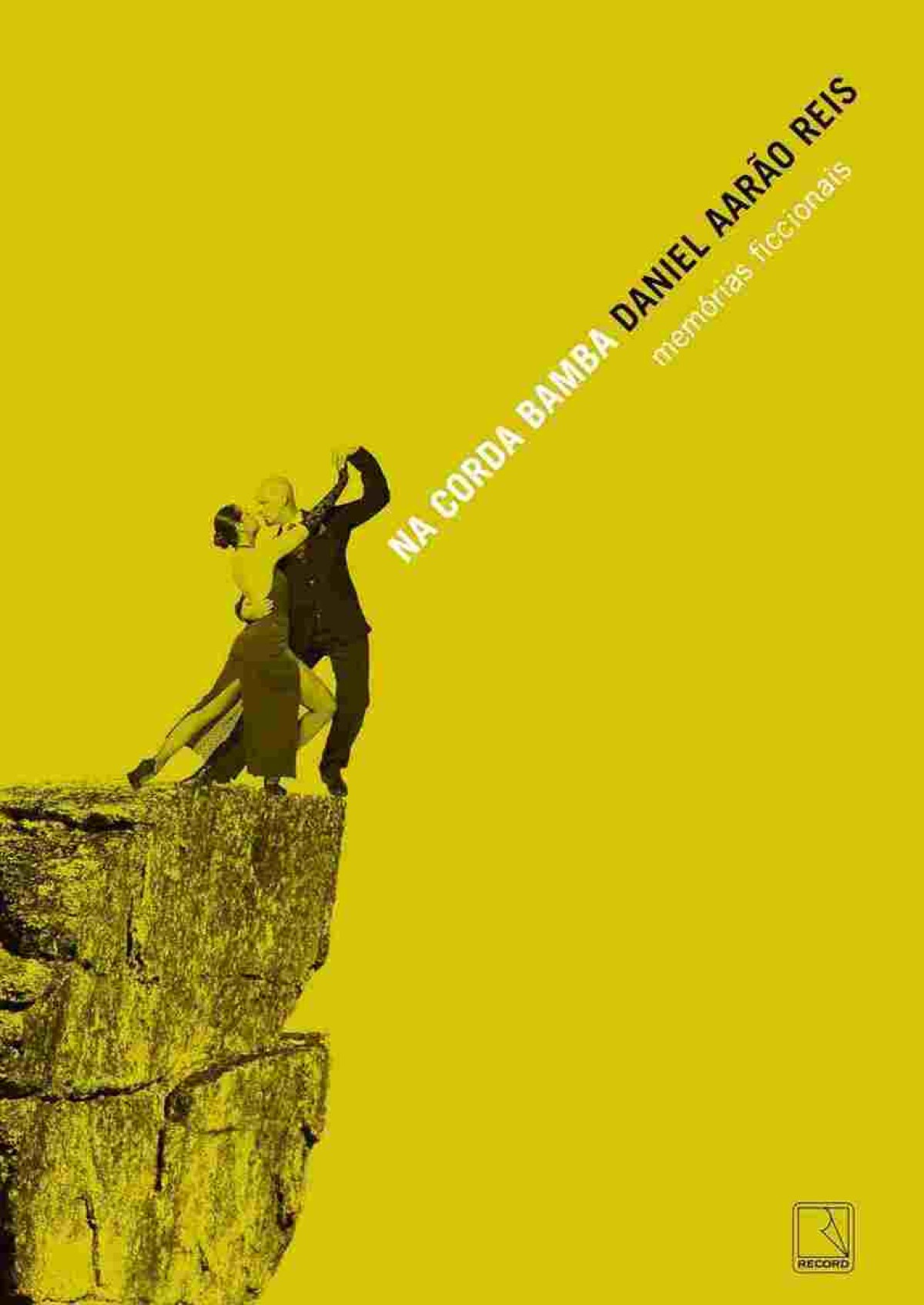Historiador Daniel Aarão Reis lança livro de contos
'Na corda bamba' tem histórias criadas a partir da vivência do autor, que combateu a ditadura militar
compartilhe
Siga no
“Brasileiros: foram inúteis todas as advertências que temos feito ao país. Contra a radicalização de posição e de atitudes. Contra a diluição do princípio federativo. Pelas reformas estruturais, dentro dos quadros do regime democrático. Finalmente, quando a crise nacional ia assumindo características cada vez mais dramáticas, inútil foi também o nosso apelo ao Governo da União para que se mantivesse fiel à legalidade constitucional.”
Assim o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, justificava há 60 anos o início da ação militar após saída de tropas de Juiz de Fora. “Entram em ação as forças sediadas em Minas”, registrava este jornal em sua capa, com uma foto de militares entrando em prédios do governo para acelerar a deposição do presidente João Goulart. A empreitada contou com o apoio dos governadores de São Paulo, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Alagoas e Guanabara, que na época era separado do estado do Rio de Janeiro.
Com o acontecimento histórico como pano de fundo, o historiador Daniel Aarão Reis, que participou de ações contra o golpe que resultou na ditadura mais longeva do Brasil, escreveu sua primeira ficção. “Na corda bamba: memórias ficcionais” (Record), onde busca humanizar agentes revolucionários, militares e a sociedade da época. Professor titular de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, Aarão Reis nasceu no Rio de Janeiro em 1946 e é autor de livros que se tornaram referência sobre o tema, a exemplo de “Ditadura e democracia no Brasil”, “Ditadura militar: esquerdas e sociedades” e “A ditadura que mudou o Brasil”. Ele ganhou o Jabuti em 2014 com a biografia “Luís Carlos Prestes: um revolucionário entre dois mundos”.

30/03/2024 - 04:00 Míriam Leitão lança nova edição de 'Tempos extremos'; Leia trecho 
30/03/2024 - 04:00 Novo livro de Heloisa Starling reconstitui os dias decisivos do golpe militar 
30/03/2024 - 04:00 Braga Martes: 'Escrever é uma forma de não esquecer'
Os contos de “Na corda bamba”, divididos em três partes (“Ditadura”, “Exílio” e “Retorno”), passam pela organização de atos realizados por grupos da luta armada, como foi o caso do sequestro do embaixador americano Charles Elbrick pela Ação Libertadora Nacional (ALN) e pelo Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8), com o objetivo de conseguir a libertação de 15 pessoas que haviam sido presas por questões políticas, mas também a relação de militares e revolucionários com a sociedade. Seja um vizinho que, por trabalhar como informante do governo, aterrorizava os moradores da sua vila; um porteiro que corteja uma donzela que passa; ou mesmo uma mulher que questiona o marido sobre um comportamento “estranho” dos simpáticos e amáveis vizinhos e que é aconselhada a chamar a polícia.
Aarão Reis avança no tempo narrando com detalhes momentos de tortura em pessoas que foram presas acusadas de ser contrárias ao governo cívico-militar. As práticas ocorriam em prédios sinistros, conforme apontavam até mesmo alguns militares, no Rio de Janeiro.
O recrutamento extraoficial de um jovem enfermeiro para “trabalhar” no atendimento aos presos políticos. O temor das famílias que em muitos casos não sabiam o destino daquelas pessoas e em alguns casos nunca mais voltariam a saber nada daqueles parentes.
Ele também narra a vida no exterior daqueles que foram exilados em países como México, Argélia, Chile, França ou Itália. Com o passar de 21 anos e o fim oficial do governo cívico-militar, em 1985, o escritor então traz ao centro a retomada da vida daqueles revolucionários na sociedade.
No caso do personagem que guia a maior parte da narrativa, a vida de professor universitário acaba por lhe trazer uma relação com estudantes que pouco ou nada sabem das lutas revolucionárias que aconteceram no Brasil e até mesmo a relação com pessoas que o viam como um bom homem, ao descobrirem o seu passado, passam a condená-lo.
ENTREVISTA / DANIEL AARÃO REIS
“A participação dos civis foi muito intensa e ativa ao longo de toda a ditadura”
Como o senhor analisa a produção cultural e acadêmica no país sobre a ditadura militar?
A produção acadêmica sobre a ditadura tem sido razoavelmente grande. Claro que alguns temas ainda continuam sendo pouco trabalhados. Desde que a ditadura fez 50 anos, 10 anos atrás, apareceu uma demanda muito forte para que houvesse estudos a respeito das pessoas comuns durante a ditadura. Não há estudos sobre liderança e sobre instituições, mas sobre pessoas comuns.
É o que a Alemanha chama de “a história do cotidiano”, também desenvolvida na França, e há também já alguns especialistas no Brasil sobre isso. Ainda temos um campo muito amplo de pesquisa para flagrar as tendências conservadoras existentes no Brasil. A partir dos anos 80, a sociedade brasileira, de modo geral, não se preocupou muito em estudar o passado da ditadura. Inclusive grandes lideranças políticas como Tancredo Neves, em 1985, disseram explicitamente: “Não vamos ficar olhando pelo espelho retrovisor, vamos olhar para frente”. Agora mesmo, o Lula fez um discurso no mesmo sentido: “Não vamos ficar remoendo o passado”.
Apesar disso, houve um grande surto memorialístico nos anos 80 e 90, muitos participantes da luta elaborando suas memórias e, posteriormente, a academia desenvolveu muitos estudos sobre as organizações políticas clandestinas, desenvolveu estudos sobre educação. Desde o começo do século atual, eu lancei a ideia de que era preciso ampliar os estudos sobre a ditadura porque ela não tinha sido obra apenas de militares. Eembora, em termos conceituais, seja razoável falar em ditadura militar porque efetivamente as corporações militares mandavam no país. O fato é que, ao longo de toda a ditadura, a participação dos civis foi muito intensa, muito ativa, muito importante para a construção da ditadura.
Essa participação dos civis estava um pouco obscurecida com esse marco cronológico que consensualmente foi adotado no Brasil. Em 1985, quando o último chefe militar deixa a Presidência da República e assume o José Sarney, porque o Tancredo Neves morreu, de modo que é concebido que a ditadura terminou naquele ano. Só que o Sarney foi um grande líder civil da ditadura, foi presidente do partido da ditadura, Aliança Renovadora Nacional (Arena), e se criou um pouco essa ideia de que a ditadura tinha sido exclusivamente militar.
Essa tradição foi abalada com a perspectiva da chamada ditadura civil militar que chamou atenção para o fato de que a ditadura não tinha sido apenas militar, tinha incluído muitas vezes é também contado com apoio até de segmentos populares, mas isso está muito pouco estudado. A verdade é que ainda precisamos de muito estudo nessa área.
É isso que nos permite entender, na presença atual na sociedade brasileira de perspectivas conservadoras e até extremistas, como o movimento bolsonarista, que é um movimento de extrema direita. A partir dos anos 80, criou-se a convicção de que a ditadura estava superada. Dizia-se na época que a direita brasileira tinha acabado e o único líder de direita caricatural que se mantinha era a triste figura do Paulo Maluf. Na verdade, a direita não tinha desaparecido, nem sido superada.
Apenas prosseguia subterraneamente e ela emergiu, com muita força, nos movimentos de 2013, que não foram só de extrema direita, aliás, eles começaram através de organizações e movimentos de esquerda. No contexto geral do movimento de 2013, as direitas apareceram com muita força e nunca mais deixaram o centro da cena política.
O livro, em sua primeira parte, apresenta contos cotidianos, relatando o ponto de vista do porteiro, a vizinha que ‘vigia’ a rua, o vizinho que ‘trabalha’ para o governo. Como foi criar esse cenário para o senhor, que viveu essa época?
A minha preocupação, e por isso apelei para a ficção, foi não criar suscetibilidade. Se fosse contar as histórias dando a elas um caráter de veracidade, poderia causar uma série de problemas. O campo da ficção, exercendo a imaginação, sempre dá possibilidade de narrar histórias que poderiam ter acontecido, mas não se diz que elas realmente aconteceram. Há uma certa preocupação com a veracidade.
Qualquer ficção, se ela não se ancora no processo histórico, não consegue ser acompanhada pelas pessoas. Tentei contar histórias onde aparecessem os revolucionários com suas emoções, seus limites, suas angústias, o que quase nunca é possível acontecer nos livros de História, Ciência Política, Sociologia, Antropologia, enfim, as ciências humanas. Adoto um recurso muito usado na literatura russa, que é a polifonia.
O autor se faz representar pelo narrador, mas também por pessoas que são diferentes dele. Você coloca vários atores falando em nome próprio. Através deste recurso, eu penso ter oferecido um quadro mais amplo, mais contraditório, mais nuançado do processo da ditadura.
Consegue ver atitudes de rebeldia frente à ditadura, mas também atitudes de tolerância, acolhimento, simpatia ou de indiferença construindo um quadro de relações complexas entre a sociedade e a ditadura. Nem todos lutaram contra a ditadura. Muitos preferiram ficar em posições de neutralidade ou de indiferença. Você encontra muito hoje entrevistando pessoas mais velhas, que viveram a ditadura. Muitos dizem que têm uma memória positiva, dizem que tinha ordem, paz social, progresso material.
Acho que isso ficou escurecido por essa ideia de que todos se opuseram. Quis construir uma visão menos heroica dos militantes revolucionários, sempre destacando sua coragem e determinação, mas mostrando seus limites, ilusões, sentimentos de dúvida e angústia. O livro tenta trazer essas nuances, o que acho que pode enriquecer a nossa reflexão sobre o processo da ditadura.
O livro traz a questão de que muitas daquelas pessoas que estavam dispostas a fazer a revolução não eram exatamente das bases da sociedade, mas buscavam mostrar algum tipo de relação com operários ou camponeses, mesmo a maioria sendo estudantes.
Na época, os revolucionários, para se legitimar, tinham que evidenciar laços com os camponeses e operários. Como esses laços eram muito pouco reais, você tinha esse recurso que a pessoa se valorizava muito se tivesse origem operária ou se tivesse ancestrais operários. Essa coisa de se imaginar operário, camponês, era uma constante, apesar da grande maioria ser de classe média, estudantes universitários, que empreenderam ações armadas contra a ditadura. Havia também entre os revolucionários pessoas das classes trabalhadoras, sargentos, marinheiros, mas a grande maioria eram estudantes universitários.
A capacidade que aqueles revolucionários tiveram em estabelecer laços orgânicos com operários e camponeses não se realizou. O projeto de ações armadas, na minha visão crítica, não teve êxito no Brasil, porque não encontrou eco na imensa maioria do povo brasileiro, que são as classes trabalhadoras. Não que elas fossem favoráveis à ditadura. Havia os que simpatizavam, outros não. Porém, não estavam em condições de empreender uma luta armada. Quando se escolhe a luta armada é uma decisão muito arriscada. Pode levar a prisão, morte, exílio.
Não é como travar a luta política em que você discute, ganha ou perde, mas continua, em tese, sem sofrer represália. Para além da repressão e tortura, como política de Estado, que foram muito importantes para explicar a nossa derrota. A gente queria fazer uma luta em nome dos trabalhadores do campo e da cidade, mas os trabalhadores não se mostraram convictos que aquela era uma opção pela qual valia a pena lutar e arriscar a vida. No Vietnã, Argélia, Cuba também aplicaram a tortura como política de Estado, mas ali eles perderam porque a revolução tinha raízes populares. Matavam 20 ou 30, vinham 200, 300 pessoas. Enquanto a gente estava muito isolado.
O senhor acredita que hoje a população brasileira se vê mais ao lado dos revolucionários ou dos militares e simpatizantes?
Hoje, sobretudo na juventude, essa luta revolucionária é vista com muita simpatia. As pessoas olham os que lutam com determinação e coragem. Mesmo quando elas perdem, são olhadas com simpatia. Às vezes, existe até uma certa idealização como se fossem heróis sem máculas, sem fraquezas, o que eu procurei combater no livro.
Mesmo que seja importante ressaltar a sua coragem, sua determinação, eles tinham limites, contradições, dúvidas, angústias, ilusões. Essa simpatia não quer dizer que as pessoas vão querer apoiar. Eu mesmo, ao longo do tempo, elaborei uma visão crítica da luta armada como processo. Tem uma dinâmica muito autoritária. Penso que as lutas democráticas, embora aparentemente menos rápidas, são mais sólidas. Os avanços democráticos se assentam em opiniões majoritárias, o que é mais difícil de erradicar.
No final do livro, o seu alter ego, Gabriel, já então professor de História da Universidade Federal Fluminense, conversa com uma funcionária da limpeza sobre seu passado como preso político. Ao que ela, surpresa, lamenta que já o havia elogiado tanto para o pastor da sua igreja, mas se mostra preocupada sobre o que ele dirá ao descobrir que ele é um ex-presidiário. Como se dá hoje essa relação entre religião, política e povo?
Na vitória do golpe civil militar de 64, com apoio das marchas da “Família com Deus pela Liberdade”, na época, os golpistas recorreram muito à religião e caracterizaram sua luta como política e religiosa. A Igreja Católica desempenhou um papel muito importante. Não à toa, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que depois iria assumir uma posição crítica, apoiou em uma nota oficial.
As cruzadas do Padre Peyton, americano-irlandês, que esteve aqui mobilizando multidões, enchendo estádios. As tendências conservadoras incorporaram muito as dimensões religiosas para apresentar a sua luta como uma luta civilizacional. A civilização cristã contra o comunismo ateu. No final dos anos 70, surgiram os chamados evangélicos pentecostais, neopentecostais. Esses grupos eram muito irrelevantes. No início dos anos 80, eles tinham apenas 6%, agora têm 32%. Esses evangélicos foram assumindo o lugar que a Igreja Católica desempenhava do ponto de vista da articulação do pensamento conservador no Brasil.
A ditadura trabalhou com informes do Serviço Nacional de Informações (SNI), que dizia que o governo tem que se apoiar no evangélicos. Eles têm um potencial muito grande de apoio à ditadura. E realmente, o João Figueiredo, último ditador, concedeu o primeiro canal de televisão aos evangélicos, no início dos anos 80. As lideranças de esquerda, ao invés de debater com os evangélicos as suas propostas, ficaram com muito medo de que levassem a perder voto e o resultado foi que tanto Lula, quanto Dilma se aconselhassem durante muitos anos com essas figuras conservadoras e reacionárias, como Malafaia.
Esse diálogo entre a funcionária da universidade, que era uma boa pessoa, operosa e trabalhadora, mas que cultivava esses preconceitos contra os presidiários e manifestava esse conservadorismo que vai tomando conta gradativamente da sociedade brasileira com anuência das esquerdas, que não travam discussão por medo de perder voto. Ela fica espantada “como que aquela pessoa tão boa poderia ter sido presa”, e é um momento de diálogo sobre a ditadura. É muito comum perguntar aos meus alunos como a família deles discutia a ditadura e frequentemente a resposta era que não se discutia esse assunto.
Outro personagem da autobiografia ficcional que é muito expressivo deste mesmo caldo de cultura é um homem que era contrabandista de armas e vendia para a organização. Ele é preso e torturado pela polícia, que o vê como um revolucionário, e ele diz: “Comecei a apanhar. Me perguntavam sobre uma revolução. Eu nem sabia que havia uma revolução nesse país”. É uma distância entre aquilo que a gente queria, que a proposta de luta armada empolgasse as multidões, e havia gente que nem sabia. Quanto à funcionária, também tenho minhas dúvidas se ela conceituava aquele regime militar como ditadura.
As personagens parecem estar o tempo todo “na corda bamba”. Os pais com filhos presos, os revolucionários da luta armada podem ser presos, torturados ou mortos a qualquer momento, os militares, em muitos casos jovens, também poderiam ser mortos em um conflito ou durante uma ação. Gostaria que o senhor falasse sobre essa iminência da morte, seja dos que estão ativos ou não no embate.
O título me pareceu muito adequado, inclusive a capa, o casal dançando à beira do abismo, exprime três ingredientes que são essenciais no livro: o perigo, romance e aventura. Aventura no melhor sentido da palavra que rompe com o cotidiano.Ao mesmo tempo é expressiva da situação instável que é própria dos regimes ditatoriais. Esses regimes, chamados na Ciência Política de Estado de exceção, pois as regras são sempre possíveis de ser alteradas, revogadas, ignoradas.
Essa instabilidade está no núcleo do regime político e vai se estendendo para toda a sociedade que se encontra em situação de insegurança jurídica. Porque mesmo que eles não estejam envolvidos, podem ser apanhados na rede repressiva. Hoje, no Brasil, 33 milhões de pessoas vivem em insegurança alimentar, a pena de morte existe, não está na Constituição, mas é executada, na prática, pela polícia militar, civil, pelos militares quando intervêm na famigerada “defesa da lei e da ordem”.
A nova ordem social que Ulysses Guimarães exaltou na Constituição de 1988, a “Constituição Cidadã”, serve para as camadas médias.Temos que refletir mais sistematicamente sobre a época da ditadura e seus legados. Um dos principais legados nocivos à democracia é a autonomia das Forças Armadas. Elas são um verdadeiro Estado dentro do Estado. Os militares têm Justiça própria; sistema educacional próprio, lá o golpe de 64 ainda é apresentado como “revolução democrática”.Uma professora de uma escola militar de Porto Alegre tentou apresentar para a sua turma um debate sobre o assunto, em que seriam discutidas tanto a alternativa do golpe, quanto a alternativa que é oficial dentro das Forças Armadas, que é uma “revolução democrática”. Ela foi excluída.
Os colégios militares não aceitam inspeções, supervisão, o debate democrático. Até 1964 as Forças Armadas brasileiras eram plurais, depois houve um expurgo generalizado. Nenhuma categoria profissional sofreu um expurgo maior. Mais de 3 mil oficiais, soldados, graduados foram atingidos pelos atos de exceção. Eles foram demitidos, aposentados compulsoriamente, exações e arbitrariedades foram cometida contra eles. A partir daí, o Exército se tornou uma entidade monolítica.
Essa é uma tradição nefasta da democracia brasileira que vem lá desde a Proclamação da República, que ocorreu através de um golpe praticamente sem participação popular. Você tem através das décadas os militares se arvorando como anjos tutelares da república. Os presidentes civis não tiveram coragem cívica de liderar um processo que pusesse isso em questão. A ideia de lideranças de esquerda, de que isso, com o tempo, vai se amainando, mas o problema é que essas feridas com o tempo, às vezes, não cicatrizam, se aprofundam.
Como dizia Bertolt Brecht, após a Segunda Guerra Mundial em relação ao nazismo, “o monstro foi derrotado, mas o ventre que o gerou permanece fecundo”. Enquanto essa autonomia absurda continuar, o ventre que gerou os movimentos ditatoriais continuará fecundo. Além de outros legados, as desigualdades sociais e regionais, criadas pelo modelo de capitalismo implantado pela ditadura; Brasil continua muito violento, muito racista. Embora muito disso não tenha sido construído pela ditadura, ela exacerbou essas deficiências, e enquanto nós não conseguirmos discuti-las de forma conveniente, vamos continuar suportando esse legado.
"Na corda bamba"
Daniel Aarão Reis
Editora Record
368 páginas
R$ 79,90
Capa do livro