
'Escrever é uma coisa difícil e sofrida', diz Herculano
O escritor Carlos Herculano Lopes lança reedição do romance 'O último conhaque' e se prepara para ingressar na Academia Mineira de Letras
compartilhe
Siga no
“Saiu como um jorro, como uma água revolta descendo em uma corredeira”, compara Carlos Herculano Lopes, ao comentar como escreveu o romance “O último conhaque”. “Foi o único livro meu que já nasceu praticamente ‘pronto’, sem ter de reescrever e reescrever diversas vezes, como aconteceu com os outros, e ainda acontece, pois escrever é uma coisa muito difícil e sofrida”, complementa o mais novo eleito para a Academia Mineira de Letras.
Lançado em 1995, “O último conhaque” acaba de ganhar reedição pela Record e será o tema da conversa de Herculano com o professor Wander Melo Miranda na próxima terça-feira, às 19h30, na Biblioteca Pública Estadual, pelo projeto “Sempre um papo”.
No posfácio da nova edição, Wander destaca a “força de persuasão literária” de Herculano com a utilização de uma linguagem “seca e direta”, apontando um “pesadelo renitente”, ligado a questões familiares, a assombrar os personagens do livro, ambientado na cidade fictícia de Santa Marta.
“Sob a égide da violência que paira sobre a cidade, invisível, mas fortemente pressentida por seus moradores, o texto se constrói por capítulos sem parágrafos, num ritmo que parece mimetizar a espera angustiante da ameaça prestes a se cumprir e mantida em suspenso – em suspense – pela narrativa. A embriaguez do protagonista pelo conhaque barato, que desde o título do livro enuncia o seu fim e sua finalidade, dá uma inflexão peculiar aos fatos assim rememorados”, escreve Wander Melo Miranda, professor emérito da UFMG.
A seguir, a entrevista de Carlos Herculano Lopes, que ocupará a cadeira 37 da Academia Mineira de Letras a partir de 28 de junho, a respeito da nova edição de “O último conhaque”, do trabalho como jornalista neste Estado de Minas, da atividade literária no estado e de sua ligação com a cidade natal, Coluna, no Vale do Rio Doce, a 360km de Belo Horizonte.

20/04/2024 - 04:00 Tania Rivera lança dois livros em BH 
20/04/2024 - 04:00 Sexo e espiritualidade no livro que Leonard Cohen escreveu antes da fama 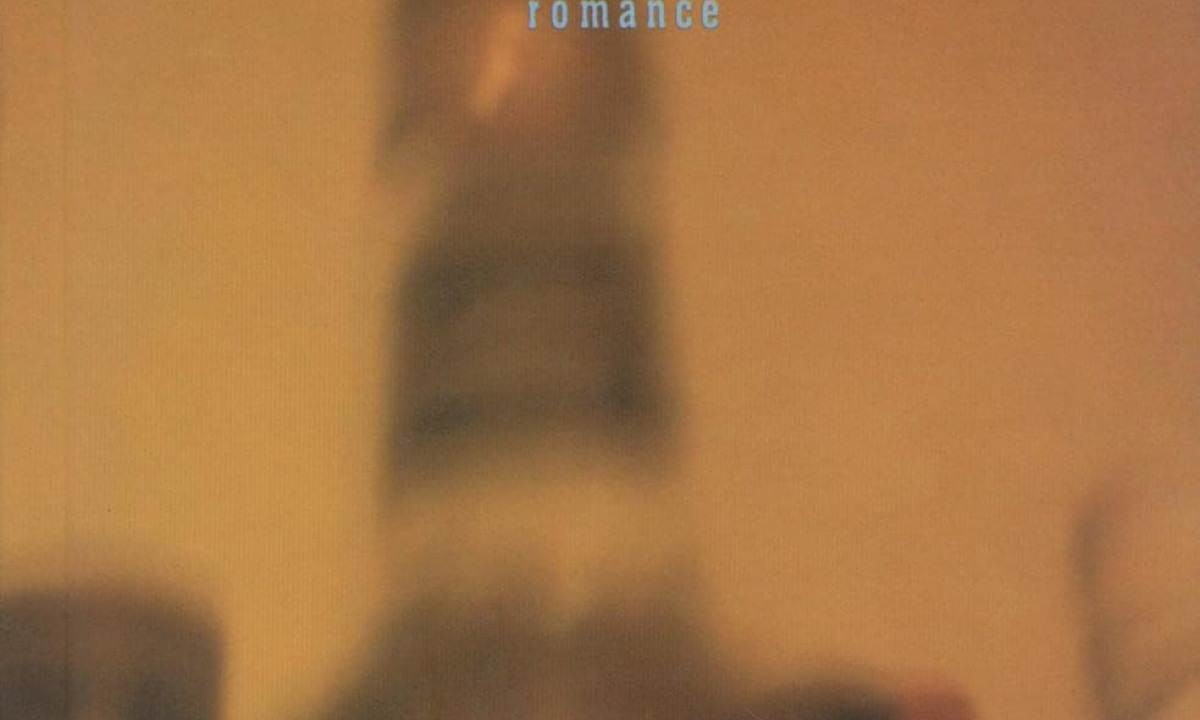
20/04/2024 - 04:00 'O último conhaque' é para ser consumido sem moderação
“É onde sempre retorno: trouxe muitas histórias ouvidas e vividas e que, no correr dos anos, foram sendo aproveitadas na minha literatura, às vezes como uma catarse, uma tentativa para tentar me libertar de alguma coisa, que eu não sabia bem o que era”, revela.
Como surge "O último conhaque"?
Algum tempo após a publicação de “Sombras de julho” (a 17ª edição sai em breve, também pela Record), comecei a escrever "O último conhaque". Eu estava com 36 anos. Hoje tenho 67. Nele conto a história de um homem chamado Fernando, que muito tempo depois de haver se mudado de Santa Marta (cidade fictícia, que aparece em outros romances meus), logo após o seu pai ter sido assassinado, volta à sua terra para assistir ao enterro da mãe, mesmo ela tendo pedido a ele, quando uma vez foi encontrá-lo em São Paulo, que jamais retornasse.
“Nem que eu morra, filho”, lhe disse. Sozinho ali, no velho casarão da sua infância, ele passa os dias tomando conhaque, e tentando acertar as contas com o passado. “O último conhaque” foi o único romance meu totalmente “inventado”, ou seja: eu criei essa história a partir de uma ideia que me surgiu, e me lembro que ela saiu como um jorro, uma água descendo sem controle em uma cachoeira.
Mas o interessante de tudo isso, o mais inusitado, foi que, logo depois do livro ter sido publicado, um repórter de uma cidade do Vale do Aço, já não tenho certeza se de Coronel Fabriciano, ou de Ipatinga, me ligou perguntando se poderia vir a BH fazer uma entrevista comigo. Quando, um pouco intrigado, lhe perguntei omotivo do interesse, ele me respondeu, não sem uma certa ironia:
“Você sabe muito bem, Carlos Herculano, que essa história aconteceu aqui, e envolveu gente importante.” Não consegui convencê-lo do contrário. De que não tinha nada a ver com o crime acontecido na sua cidade, que era pura ficção, uma trama totalmente inventada por mim, e a entrevista acabou não acontecendo.
O personagem Fernando retorna a Santa Marta, em Minas. O que essa cidade fictícia tem das cidades mineiras?
Eu nasci em Coluna, na minha infância um lugar pequeno, que faz divisa com Itamarandiba, já no Vale do Jequitinhonha. Somos a última cidade do Vale do Rio Doce. Por lá vivi até aos 11 anos, quando vim para Belo Horizonte, no final de 1968, para estudar no Colégio Arnaldo. Me lembro que assisti pela televisão, com a tia Neusa Beirão, casada com o tio Joaquim Aguiar, com os quais passei a morar, o general Costa e Silva decretar o AI 5 (Ato Institucional número 5), que acabou com as liberdades democráticas no Brasil.
Não sei por que, aquilo me impressionou muito. Mas de Coluna, onde sempre retorno, eu trouxe muitas histórias ouvidas e vividas e que, no correr dos anos, foram sendo aproveitadas na minha literatura, às vezes como uma catarse, uma tentativa para tentar me libertar de alguma coisa, que eu não sabia bem o que era. E ainda não sei.
Muitos “causos” e histórias de Coluna também aproveitei nas crônicas semanais que, durante 15 anos, foram publicadas no Estado de Minas, onde trabalhei durante 25 anos. Santa Marta, então, com seus dramas, o seu cotidiano tranquilo, mas também com suas tragédias, tem muito a ver com Coluna, com as pequenas cidades mineiras. Um universo que razoavelmente, se é possível me expressar assim, conheço por dentro.
O que você mais gosta em sua cidade?
Algum tempo após a morte do meu pai, Herculano de Oliveira Lopes, que era farmacêutico prático, ocorrida em 1994, comprei das minhas irmãs parte da herança de uma fazenda que ainda temos lá, hoje já integrada à área urbana. Sempre gostei de criação de gado, de ter uns cavalos, e consegui realizar esse sonho. Também pude preservar, intocados, quase trinta hectares de Mata Atlântica, com árvores centenárias e muitos bichos e aves.
É uma beleza, e me dá muito gosto admirá-la. O que me entristece hoje, em Coluna, é a falta de água. Na época da seca, por incrível que pareça, temos de contar com a solidariedade dos vizinhos de São José do Jacuri, e Itamarandiba, que nos fornecem as águas dos seus rios para abastecer parte da cidade. As águas da minha infância, em Coluna, quejorravam com fartura, talvez tenham diminuído, 70, 80 por cento. No restante do Vale do Rio Doce provavelmente também.
Do que mais gosto na cidade, para onde vou todos os meses (de ônibus, pois nunca aprendi a dirigir), é poder me encontrar com os meus tios, os primos e amigos. Tomar uma cerveja em um boteco ou comer um sanduíche. Ouvir boas histórias, e, sem pressa nenhuma, contar as minhas. Mas de uns tempos para cá, talvez devido àchegada da velhice, que insiste em bater à porta, tem me incomodado um pouco ficar sozinho na nossacasa, com seus muitos quartos e corredores vazios. O silêncio na cozinha e no quintal. Os retratos nas paredes e a lembrança dos mortos.
Por que decidiu que os capítulos de “O último conhaque” não teriam parágrafos?
Como eu disse, “O último conhaque” saiu como um jorro, como uma água revolta descendoem uma corredeira. Foi o único livro meu que já nasceu praticamente “pronto”, sem eu ter de reescrever e reescrever diversas vezes, como aconteceu com os outros, e ainda acontece, pois escrever é uma coisa muito difícil e sofrida. Murilo Rubião ficou dez anos escrevendo um único conto.
Mas há pouco tempo, revendo a prova final dessa nova edição, que acaba de sair pela Record, li novamente a história, escrita já há quase trinta anos, como se ela não fosse mais minha. E foi uma sensação muito boa, de poder ser leitor e crítico do seu próprio livro. Uma espécie de libertação, que me deixou mais leve e redimido como escritor, e com as portas abertas para continuar a escrever.
No posfácio da nova edição, o professor Wander Melo Miranda destaca que o declínio ou a ruína da ordem familiar “é um pesadelo renitente que não cessa de assombrar os personagens do livro”. Como foi dar forma a esse pesadelo? Raduan Nassar, Autran Dourado e Lúcio Cardoso, citados por Wander, são referências? O que mais gosta na literatura deles?
Conheço histórias de muitas famílias que se desintegraram após a morte, violenta ou não, de um pai ou de uma mãe que eram os esteios, ou então devido a partilhas de heranças, desentendimentos por causa de dinheiro, de patrimônio. Em Minas, como em todo o Brasil, casos assim são muito comuns.
Com Fernando, meu personagem central de “O último conhaque” não foi diferente: com o assassinato do seu pai, por um desafeto político, quando ele ainda era criança, sua mãe, talvez por medo de também perdê-lo, o mandou para São Paulo, onde passou a viver com uma parente.
Sua volta a Santa Marta para o enterro dela foi traumática: sozinho, e se embebedando, ele voltou a ser um menino assustado, dentro da casa que já não era mais dele, assombrado com o passado, e sem muitas possibilidades de redenção, mas ao mesmo tempo precisando de tomar decisões. Raduan Nassar, que li com grande fascinação, principalmente "Lavoura arcaica", e Lúcio Cardoso, que era de Curvelo, e a grande paixão de Clarice Lispector, também me remetem a esse universo de vazio e abandono, e em determinada época, foram grandes referências para mim.
Assim como o mexicano Juan Rulfo, autor dos extraordinários “Pedro Páramo” e “O planalto em chamas”. “Crônica da casa assassinada", de Lúcio Cardoso, só posso definir como um livro assombroso, ou assombrado. "Dias perdidos", "Três histórias da cidade", e "Três histórias da província" (tenho as edições, lançadas pela Bloch, em 1969) com menos intensidade, também assombram, e encantam.
Já de Autran Dourado, que, como Lúcio Cardoso, também é mineiro, conheço pouco da sua obra. "Solidão solitude", e "Ópera dos mortos", estão aqui à minha frente, na estante, pedindo para serem lidos. O que pretendo fazer em breve.
Como você vê o momento da cena literária mineira?
Depois de um período de um certo marasmo, creio que muito em função da epidemia da COVID, que deu uma desestabilizada produtiva e emocional em todos nós, sobreviventes dessa praga, os autores mineiros voltaram a se encontrar com a literatura, e isso me deixa muito feliz. Correndo o risco de omitir nomes, o que com certeza acontecerá, e desde já peço desculpas, cito Marcílio França, que acaba de lançar "O último dos copistas", pela Cia das Letras, onde em breve também vai sair “Vento vazio”, de Marcela Dantés.
Jacques Fux e Ronaldo Guimarães lançaram esses tempos pela Faria e Silva, e Lê, “Nunca vou te perdoar por você ter me obrigado a te esquecer”, e “O dia que os Beatles visitaram Belo Horizonte”. Jacyntho Lins Brandão publicou, pela Patuá, o premiado "Harsíese". Um poema desse livro, “Casa das Lodi”, merece entrar em qualquer antologia da melhor poesia brasileira contemporânea. José Eduardo Gonçalves também publicou pela Patuá um ótimo livro de contos (“Pistas falsas”) e Fernando Armando Ribeiro saiu pela Quixote, com “Retratos de Primavera e outras estações”.
Luis Giffoni e Ana Elisa Ribeiro estão com livros novos, assim como Branca Maria de Paula. Jamily Nacur também lançou um livro recentemente. Antônio Barreto, Jeter Neves e Sérgio Fantini estão escrevendo. E Antenor Pimenta está finalizando um novo romance. Mineira de Barbacena, Nathália Lima, nos legou pela Urutau um belo livro de poemas, “Istmo”. E em breve tem livro novo de Ana Martins Marques.
Adriane Garcia, que é uma poeta visceral, também está com a produção em alta, e seu marido, Tadeu Sarmento, nascido em Pernambuco, mas que já é mineiro, publicou pela Lê, o ótimo “O dono do cinema”. Thaís Guimarães e Carlos Ávila, também produzindo, assim como Carla Madeira. Ádlei Carvalho, e Taquinho de Minas, com livros novos: “Céu de luz Marina”, e “Sol na janela”. Já Rodrigo Bragamotta acaba de lançar, pela Cas à, um lindo livro de contos, “A neblina tem muitos nomes”. Ana Cecília de Carvalho e Ricardo Aleixo estão escrevendo, assim como Alice Duarte Pena e Érica Toledo, com o seu “Faca de ponta”, que saiu pela Aletria.
E não poderia deixar de citar Maria Esther Maciel, que acaba de sair pela Todavia com “Essa coisa viva”, um livro forte, corajoso e ao mesmo tempo libertador. E Dina Dominick recentemente nos brindou com um belo e instigante livro de contos, “A outra mulher”. Esses dias conversando com Paula Vaz, ela me diz que está terminando de escrever um novo livro, “bem esquisito”. E Jovino Machado está programando o lançamento do seu próximo livro, “Baco engarrafado”.
O que significa para você a sua entrada para a Academia Mineira de Letras? Como viu a chegada de Ailton Krenak e Conceição Evaristo? Qual pode ser a sua contribuição para a AML?
Embora sempre tenha tido um ótimo relacionamento com a AML, desde a época de Vivaldi Moreira, quando comecei a trabalhar no Estado de Minas, em 1979, e fui entrevistá-lo, nunca passou pela minha cabeça que um dia pudesse me tornar um dos seus membros, como acabou acontecendo.
Mas logo após a morte de Olavo Romano, ocorrida em fevereiro, incentivado por alguns amigos, que me encorajaram a candidatar à sua vaga, resolvi aceitar o desafio, fui eleito e terei a honra de sucedê-lo na cadeira 37, o que será para mim uma imensa responsabilidade, e é uma grande honra, por tudo o que Olavo representou para a cultura mineira.
Chego em um ótimo momento à AML, quase ao mesmo tempo em que também chegaram Ailton Krenak, meu conterrâneo do Vale do Rio Doce, Conceição Evaristo, e Paulo Beirão. Com certeza, eles irão ajudar a inaugurar uma nova época na Casa, para a qual pretendo, dentro das minhas possibilidades como ficcionista e repórter, que nunca deixei de ser, também dar a minha contribuição. A minha posse está marcada para o dia 28 de junho.
Você entrevistou dezenas de escritores na sua trajetória como jornalista no Estado de Minas. Quais foram as entrevistas mais marcantes, e o que eles falaram que você nunca esqueceu?
Fora um período de seis anos em que trabalhei no caderno “Fim de Semana”, onde entrevistava mais empresários e homens ligados aos negócios, como repórter do EM Cultura e do Pensar, na época editados por João Paulo Cunha, além das matérias corriqueiras, do dia a dia, tive a oportunidade de fazer dezenas, talvez centenas de entrevistas com escritores, desde iniciantes, aos quais sempre demos apoio, até nomes consagrados.
Citarei alguns, como José Saramago, quando ele veio a BH participar do Projeto Sempre um Papo. Conversamos longamente. Foi educado e cortês. Na época andava entusiasmado com uma guerrilha que estava acontecendo no Sul no México, no estado de Chiapas, liderada pelo Subcomandante Marcos, ao qual teceu elogios, e discorreu sobre o seu sonho de ver a América Latina como um continente menos desigual, e com oportunidade para todos. Marcante também, entre tantas outras, foi uma longa conversa que tive, por telefone, com o escritor paraguaio Augusto Roa Bastos, um dos ícones da literatura hispano- americana, quando do lançamento no Brasil, pela Ediouro, do seu romance “Contravida”.
Também falamos muito sobre a Guerra do Paraguai (1864/1870), da qual sou um estudioso amador, e pude ouvir o seu ponto de vista sobre o conflito. Aqui em BH, no Othon Palace Hotel, que hoje não existe, fiz dezenas de entrevistas. Uma delas com o escritor argentino Ricardo Piglia, quando do lançamento no Brasil de “Dinheiro Queimado”, pela Cia. das Letras.
Depois fomos tomar uma cerveja no Malleta, e a conversa prosseguiu. Ainda no Othon, tive a oportunidade, que muito me emocionou, de fazer uma matéria com José Mauro de Vasconcelos, por ter sido ele um dos escritores que mais marcaram a minha adolescência, com “Meu pé de laranja lima”, “Banana brava”, entre outros. Estive também com Manoel de Barros, mas foi uma entrevista difícil, cheia de hiatos e silêncios.
O poeta pantaneiro, pelo menos naquele momento em que nos encontramos, na Serraria Souza Pinto, me pareceu um homem de pouca conversa. Quando Lygia Fagundes Telles completou 80 anos, fui um dos poucos repórteres brasileiros com os quais ela falou, pelo fato de termos nos conhecido aqui em BH durante uma feira de livros, quando eu ainda não tinha 18 anos, mas já andava envolvido com a literatura.
Me escreveu uma carta super afetiva, hoje sob a guarda do Acervo dos Escritores Mineiros da UFMG, nos tornamos amigos, e pela vida afora nos encontramos várias vezes em bienais, feiras de livros, e ela sempre me tratou com muita deferência, assim como Nélida Pinõn, de quem fui mais próximo. Foram muitos escritores, muitas conversas.
Marcante também foi uma vez em que fui ao Rio de Janeiro entrevistar Rose Marie Muraro, que estava passando por dificuldades, e havia escrito uma carta à presidente Dilma Rousseff, falando da sua situação. Anos antes, aqui em BH, eu havia sido apresentado a ela por Afonso Borges, e Rose abriu para mim as portas da Editora Espaço e Tempo, do Rio, onde trabalhava, e editou o meu primeiro romance, “A dança dos cabelos”, que ninguém queria publicar, mesmo ele já tendo vencido o Prêmio Guimarães Rosa.
Hoje é o meu livro mais estudado pela academia, e está na 12ª edição, pela Record. Na hora que nos encontramos, ela me abraçou, beijou o meu rosto e disse: “Você está ficando com os cabelos brancos”. Agradeci a força que me deu, editando o meu primeiro romance, o que foi fundamental para mim, pois me permitiu romper as barreiras de Minas, o que naquela época, meados de 1980, não era fácil. Ela já estava bem doente, e morreu pouco depois.
Quais são os seus próximos lançamentos? E o que está escrevendo?
Estou terminando de escrever um romance, ainda sem título, mas que já está bastante adiantado. Talvez dê para lançá-lo no próximo ano. E ainda esse ano, no segundo semestre, ou no máximo nos primeiros meses de 2025, pretendo lançar as “Duzentas crônicas selecionadas”, de um total das mais de 1.300 que publiquei no Estado de Minas, entre 2002 e 2016.
O escritor Jacques Fux me ajudou a fazer a seleção, a ordená-las por assuntos, e estou muito entusiasmado com o projeto. Me tornei cronista no EM por circunstâncias, após escrever, a convite de Josemar Gimenez (então diretor de redação, hoje diretor-presidente dos Diários Associados), a crônica de despedida de Roberto Drummond, quando da sua morte repentina em junho de 2002. A crônica mudou a minha maneira de enxergar a vida, e as pessoas ao meu redor. A ouvir mais, observar mais. A me tornar uma pessoa mais humilde e atenta às pequenas coisas, aparentemente, mas só aparentemente banais.
