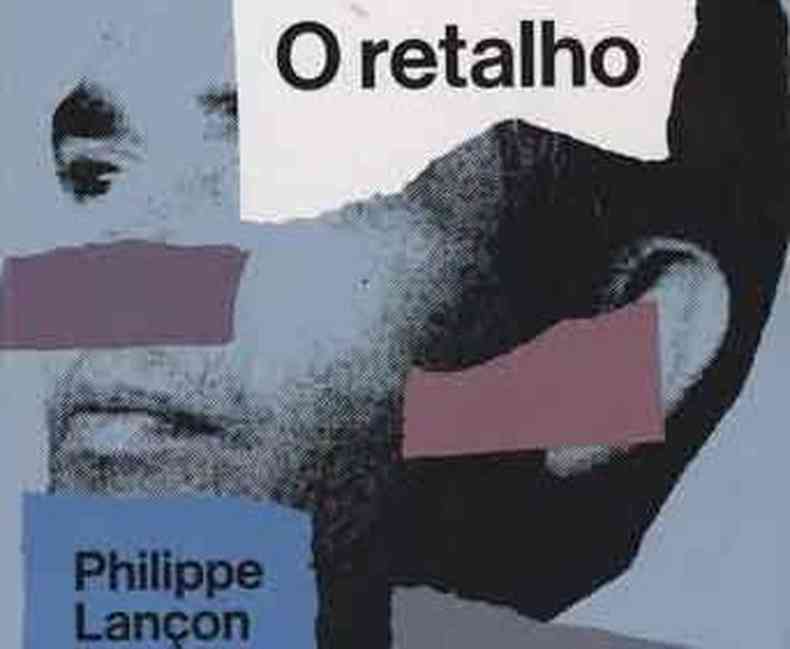
“Quando a morte não é esperada, quanto tempo se leva para sentir a sua chegada?” A violência dos fatos irrompe com tal rapidez sobre a segurança de uma pacata rotina, que a consciência encontra-se incapaz de perceber o exato momento em que é destruída. É assim que o jornalista Philippe Lançon, sobrevivente do atentado jihadista ao semanário satírico francês Charlie Hebdo, autor de O retalho (Editora Todavia), enfrenta o trágico hiato entre a súbita e brutal perspectiva da morte e a sua lenta assimilação pela consciência.
“Eu ainda achava que o que estava acontecendo era uma farsa, mas ao mesmo tempo imaginava que não, sem saber o que de fato era. Como um papel vegetal mal colocado sobre o desenho a ser copiado, as linhas da vida normal, daquilo que numa vida normal desenharia uma farsa ou, como estávamos ali, uma caricatura, não correspondiam mais às linhas, desconhecidas, que acabavam de substituí-las. Tínhamos de repente nos tornado pequenos personagens presos dentro de um desenho. Mas quem estava desenhando?”
Era manhã de 7 de janeiro de 2015. O dia do jornalista Philippe Lançon desenhava-se sem surpresas. Jamais suporia que em algumas horas estaria mergulhado numa tela de sangue, desenhada pelas balas dos fuzis Kalachnikov carregados pelos irmãos Chérif e Saïd Kouachi. Doze mortos, 11 feridos, um único sobrevivente da reunião de pauta semanal do Charlie Hebdo.
“Os mortos quase se davam as mãos. O pé do primeiro tocava a barriga do segundo, cujos dedos tocavam o rosto do terceiro, que pendia para o quadril do quarto, que parecia olhar para o teto, e todos, como nunca mais e para sempre, nessa posição, se tornaram meus companheiros”, descreveria a cena Lançon, que escapara fingindo-se de morto. Mas quando tentava se reconhecer em meio ao macabro cenário de corpos, vislumbrou o próprio rosto na tela do celular. O choque: em vez do queixo e da parte direita do lábio inferior, havia “uma cratera de carne dilacerada e pendurada que parecia ter sido colocada ali por uma criança que pinta”.
As primeiras cem páginas de O retalho – o livro tem 461 páginas – detalham a noite e a manhã da véspera do ataque, uma narrativa existencial, filosófica, ao ritmo do vagar do pensamento de um intelectual, num dia ordinário, comum. E culminam com a descrição dos minutos que antecedem o atentado, algo como 11h25, talvez 11h28, anota Lançon. Narra as minúcias da conversa que embalava com o cartunista (Jean) Cabu, examinando o livro de jazz Blue note e a foto do baterista Elvin Jones, sobre o qual escrevera e Cabu dese- nhara.
O bate-papo entre Lançon e Cabu é interrompido por Bernard (Maris), sugerindo a Lançon que fizesse uma crônica do livro Submissão, do polêmico, misógino e niilista escritor francês Michel Houellebecq. O jornalista resiste. “Ah, não! Acabei de escrever no Liberátion o que pensava, não quero mais essa punheta.” A discussão segue e Charb (Stéphane Charbonnier, editor-chefe), outro interlocutor na sala de redação, retruca: “Ah... por favor, bate essa punheta pra gente...” Sorrisos. Estampidos. Gritos.
Tudo o que era normal desapareceu, escreve Lançon. “Já somos a ausência que seremos”, divaga, em referência ao verso atribuído ao escritor argentino Jorge Luís Borges, que por seu turno inspiraria o escritor colombiano Héctor Abad para a obra de mesmo nome, sobre a trágica execução, em 1987, do pai dele, o médico sanitarista Héctor Abad Gómez. Defensor de causas sociais e humanitárias, foi assassinado por paramilitares numa calçada de Medellín.
Philippe Lançon poderia não estar ali. Naquele 7 de janeiro, quando acordou, resgatou o exemplar do Libération de sua caixa de correio, tomava café enquanto examinava os e-mails da noite anterior. Havia escrito à namorada, Gabriela, que vivia em Nova York, informando-lhe que fora aceito na condição de professor visitante para ministrar aulas de literatura por seis meses na Universidade de Princeton. Comprara a passagem.
Deixaria Paris em uma semana. Estava empolgado com a perspectiva da mudança. Ao mesmo tempo, debruçava-se sobre um dilema imediato, quase banal: por onde iniciar o seu dia de trabalho, se pelo Libération ou pelo Charlie Hebdo, onde os colegas se reuniriam para a primeira reunião de pauta do novo ano.
ENTRE MUNDOS LITERÁRIOS
Enquanto reflete sobre o assunto, Lançon divaga e narra a sua rotina. Olha em volta do apartamento alugado, onde vive há 25 anos. Bagunçado, coberto por tecidos velhos, imerso em livros, jornais, discos, cadernos e objetos acumulados ao longo de uma vida de afetos, de coberturas e andanças pelo mundo, sobre os quais as traças circulavam. A cama-trenó fora de um amigo jornalista, que se suicidara sobre os trilhos de um trem; o grande tapete adquirido num mercado do Iraque em janeiro de 1991, dois dias antes do primeiro bombardeio americano. Nas duas peças do mobiliário descritas pelo autor, o sincretismo cultural, expressão de uma Europa fascinada e engolfada pelo mundo árabe, mas com ele em permanente tensão e conflito.
Philippe Lançon se divide entre os dois mundos. Prepara-se para a crítica literária da peça Noite de reis, de Shakespeare, a que assistira na véspera. Mas ainda está às voltas com a resenha literária de Submissão, que acabara de publicar no Libération. O livro de Houellebecq seria lançado naquele 7 de janeiro, e ele tinha programado uma entrevista com o autor para os próximos dias. Distopia, Submissão mistura realidade, ficção, estereótipos e preconceito em relação ao mundo muçulmano. Todos os clichês se fundem num exercício de imaginação ao estilo “o que ocorreria na França se um partido islâmico alcançasse o poder pelo voto?”. Houllebecq imagina uma França teocrática, fundada pelos preceitos mais radicais do islã.
“O que Houellebecq atacava quase sistematicamente era tudo aquilo por que o Charlie havia lutado nos anos 1970, a sociedade libertária, permissiva, igualitária, feminista, antirracista. Seu romance, nesse ponto, era claro: o islamismo sem violência, no fundo, não era tão ruim assim. Colocava os homens e mulheres no seu devido lugar e, embora não nos livrasse do mal, ao menos nos livrava da angústia de sermos livres”, escreve Lançon. A perspectiva da entrevista com Houellebecq e o complexo debate nacional suscitado pelo autor o deixavam de mau humor naquela manhã. Sobre a sua bicicleta, num dos bulevares à altura do Monoprix, onde compraria um iogurte de baunilha, o dilema se encerra. Philippe Lançon segue para o Charlie Hebdo.
É um livro denso, que exige profunda concentração para acompanhar as reminiscências e digressões do autor. Lançon se desnuda numa revelação íntima, detalhada de seus relacionamentos, amigos, inquietações sobre a sociedade, sobre a vida, em associações atemporais, que perpassam o livro não importa se antes, durante ou depois do atentado. Não é piegas, nem autopiedoso. Mas derrama a sua dor existencial, o outro que nasce da tragédia, numa história corajosa, entre detalhes banais, analogias e pensamentos que remetem a Pascal, Baudelaire, Proust, Kafka, Thomas Mann, entre outros gigantes da literatura.
Lançon registra o momento em que os pais o viram no hospital, após o atentado: “Eles sofriam, eu percebia, mas eu não: eu era o sofrimento. Viver dentro do sofrimento, totalmente, ser determinado exclusivamente por ele, não é sofrer; é outra coisa, uma modificação completa do ser. Eu sentia que me destacava de tudo o que via e de mim mesmo para melhor digeri-los. O rosto do meu pai e de minha mãe flutuavam como de personagens que eu precisava criar, nutrir, desenvolver, pessoas íntimas que não o eram mais. Eu entrava com eles e por meio deles nessa ficção particular que é o brutal excesso de liberdade”.
Ao mesmo tempo em que o debate sobre o terrorismo é quase periférico na obra – o capítulo mais bem escrito e instigante é precisamente aquele dedicado ao ato em si. Da mesma forma, a discussão em torno da liberdade de expressão, não é central no livro. Lançon faz referências à trajetória do Charlie Hebdo, à sua radical bandeira pela liberdade de expressão, mencionando as charges e caricaturas irreverentes e críticas não apenas aos personagens do debate político, mas também às figuras consideradas sagradas pelas religiões. Entre essas, foram feitas charges de Maomé, tidas pelos muçulmanos como sacrílegas e ofensivas.
“O Charlie teve importância até o momento das caricaturas de Maomé, em 2006. Foi um momento crucial: a maioria dos jornais, e mesmo algumas figuras ilustres do desenho, não se solidarizaram com um semanário satírico que publicava caricaturas em nome da liberdade de expressão. Alguns, por declarada preocupação com o bom gosto; outros, porque os muçulmanos não deviam ser provocados. Como se estivéssemos num salão de chá ou na réplica de uma célula stalinista”, escreve Lançon.
Considerando “falta de solidariedade” o fato de a imprensa francesa, em geral, não ter adotado o mesmo posicionamento, Lançon sustenta que o Charlie Hebdo se tornou alvo único. “Essa ausência de solidariedade não foi apenas uma vergonha profissional, moral. Ela contribuiu para, ao isolá-lo e apontar o dedo para ele, fazer do Charlie um alvo dos islamistas”, escreveu. Desde as charges mais polêmicas, uma das quais motivou um coquetel molotov em novembro de 2011, os leitores de extrema-esquerda se afastaram, assim como outros influenciadores culturais.
O jornal se afundou em crise, num declínio, segundo Lançon, pontuado por sucessivas mudanças de sedes, algumas em bulevares periféricos, distantes da antiga matriz, na Rue de Turbigo, no coração de Paris. Apesar disso, a linha editorial foi mantida. “O humor, a provocação e uma forma teatral de indignação eram os juízes e os batedores, os bons e maus espíritos, numa tradição muito francesa que não era nem boa nem má, mas que logo se revelaria estranha ao restante do mundo”, avalia Lançon.
ATIRADOR PERCORRENDO A CENA
O jornalista narra o longo e doloroso tratamento, inúmeras cirurgias e quartos de hospital, para a reconstrução de seu maxilar, recuperar o rosto, o seu retalho. Em toda essa trajetória, o autor é perseguido pela memória, pelos destroços abandonados pela ação inesperada, rápida e certeira: em dois minutos, todos estavam mortos. À exceção de Lançon, abatido ao chão, com a cabeça encharcada em sangue, ainda afundado em incompreensível neblina, mas percebendo a presença de um dos atiradores percorrendo a macabra cena de corpos estendidos. “Eu o ouvia respirar, oscilar, talvez hesitar, sentia-me vivo e quase morto, um e outro, um no outro, preso ao seu olhar e à sua respiração; então ele se afastou lentamente, atraído por outro corpo, outras capas vermelhas, outras coisas, na verdade na direção da saída, como eu soube muito mais tarde, pois tudo aconteceu em pouco mais de dois minutos. E tudo se tornou silencioso. A paz desceu sobre a pequena sala, expulsando aos poucos a ameaça de uma continuação ou de um retorno dos assassinos. Eu não me mexia, mal respirava. A névoa se dissolvia. Eu não sentia nada, não via nada, não ouvia nada. O silêncio criava o tempo e, entre mortos e feridos, as primeiras formas de sobrevida”. O livro se encerra com o atentado à casa de shows Bataclan, em Paris, em novembro de 2015.
O atentado
O atentado
Em 7 de janeiro de 2015, o semanário satírico Charlie Hebdo sofreu atentado dos irmãos Chérif e Saïd Kouachi, jihadistas, no momento em que a equipe se reunia para planejar a pauta. Eles mataram 12 pessoas, inclusive a equipe editorial reunida e dois agentes da polícia nacional francesa, e feriram outras 11 pessoas que estavam próximas ao local. Entre os assassinados estavam os cartunistas Charb, Cabu, Tignous, Honoré e Georges Wolinski, além do economista e jornalista Bernard Maris, a colunista e psicanalista Elsa Cayat, o corretor Mustapha Ourrad, o editor Michel Renaud e Frédéric Boisseau, empregado da Sodexo que trabalhava no local. Ficaram feridos, além do jornalista Philippe Lançon, em estado crítico com tiro no rosto, Simon Fieschi, com tiro no ombro, o jornalista Fabrice Nicolino, baleado na perna, e Laurent "Riss" Sourisseau, cartunista, com um tiro no ombro. O atentado tornou-se símbolo da intolerância contra o humor antirreligioso e irreverente, levantando intenso debate, ainda não resolvido, sobre os limites da liberdade de expressão. Criado em 1970 e associado às piadas com religiões, o Charlie Hebdo havia publicado diversas charges ridicularizando o profeta do islã Maomé. Para muçulmanos, essas publicações foram consideradas blasfêmias. Para a equipe do Charlie Hebdo, tratava-se de princípio da liberdade de expressão.
TRECHO DO LIVRO
“Eu ouvia com nitidez crescente o estampido seco dos tiros, um de cada vez, e depois de me encolher todo, não vendo mais nada nem ninguém, como que preso no fundo de um poço, me ajoelhei e deitei lentamente, quase com zelo, como se estivesse num ensaio, pensando que assim, além do resto – mas que resto? –, não me machucaria ao cair. Foi durante esse movimento por etapas na direção do solo que fui atingido, no mínimo três vezes, a uma pequena distância, diretamente ou por balas perdidas. Não senti nada e não tomei consciência de nada. Acreditava-me ileso. Não, ileso não. A ideia de ferimento ainda não fizera seu caminho até mim. Eu estava no chão, de barriga para baixo, os olhos ainda fechados, quando ouvi o barulho dos tiros se separar totalmente da farsa, da infância, do desenho, e se aproximar do poço ou do sonho em que eu me encontrava. Não eram rajadas. O sujeito que caminhava até o fundo da sala e na minha direção atirava uma vez e dizia: “Alá Akbar!”. Atirava outra vez e repetia: “Alá Akbar!”. Atirava mais outra vez e de novo repetia: “Alá Akbar!”. Com essas palavras, a impressão de estar vivendo uma farsa voltou uma última vez e se superpôs à de estar vivendo aquela coisa que tinha me feito ver e rever Franck sacando a arma alguns segundos antes, alguns segundos, mas muito tempo atrás, pois o tempo era interrompido por cada passo, cada tiro, cada “Alá Akbar!”, o segundo seguinte extinguia o precedente e o remetia a um passado longínquo e muito distante, a um mundo que não existia mais.”
O RETALHO
.De Philippe Lançon
.Editora Todavia
.469 páginas
.R$ 79,90
.R$ 49,90 (e-book)
Em comunicado à imprensa, a Editora Todavia, de O retalho, informa que a primeira edição do livro apresentou um problema industrial na montagem na gráfica. Há uma página faltante e outra repetida. A distribuição da obra foi interrompida e aqueles que já adquiriram um exemplar poderão trocá-lo na própria livraria.
